A Instabilidade Política Latino-americana e a Problemática Indígena

Uma questão problemática para qualquer um que se dedique a estudar o espaço geográfico situado ao sul do Rio Grande é definir o que é um “latino-americano”. É notório como os argentinos, por exemplo, sempre se recusaram a ser colocados na mesma categoria que bolivianos ou nicaragüenses, preferindo se auto-identificar como “europeus transplantados”. Do mesmo modo, a maioria dos brasileiros resiste, ainda hoje, em se identificar como latino-americanos, preferindo se considerar simplesmente brasileiros. Isso para não mencionar, claro, as imensas dificuldades dos norte-americanos em criar uma categoria (como “hispânicos” ou “latinos”) que consiga agrupar imigrantes da Guatemala de origem maia que falam línguas indígenas com mestiços de espanhóis com índios, mas de língua espanhola, do México, argentinos ou brasileiros brancos de origem alemã ou italiana e negros ou mulatos do Haiti ou de Cuba.
Numa avaliação mais ampla, tudo o mencionado no último parágrafo é menos importante do que parece. Se examinarmos a história da América Latina, é perceptível como a região parece seguir ciclos econômicos e políticos – como a economia de exportação de produtos primários nos séculos XIX e XX, a crise da dívida externa nos anos 80 e o neoliberalismo nos 90, as ditaduras militares e a redemocratização, etc – incrivelmente semelhantes. Tal situação, associada aos laços culturais e geográficos, parece indicar que falar de “América Latina” é algo adequado.
No entanto, seria um erro não levar em conta as diferenças dentro desse imenso espaço. Pensando apenas em termos culturais, nota-se como a América Latina se divide em várias áreas. No Caribe e no norte da América do Sul, temos uma América Latina negra, com fundas raízes na África e na cultura criada pelos escravos africanos e seus descendentes. No extremo sul, na Argentina, Uruguai e parte do Chile, uma região com forte presença populacional e cultural de europeus e, em partes da Colômbia, Venezuela e outros países, uma área de extrema mestiçagem entre negros, brancos e indígenas.
No México, América Central e nos países andinos, por sua vez, temos países com uma presença fortíssima de mestiços e índios, formando um verdadeiro “arco indígena” no continente. Por fim, o Brasil, bastante específico não apenas pela língua dominante ser outra, como por conservar, no seu território, elementos das Américas negra (Bahia, Maranhão), branca (o centro-sul), indígena (a Amazônia) e mestiça (o nordeste e o país como um todo), o que explica a riqueza cultural desse país.
Desnecessário ressaltar como essa divisão é meramente teórica, com imensas subdivisões e nuances entre essas diversas áreas e contínuos contatos e intercâmbios entre elas. Mas ela fornece a base para compreendermos melhor os elementos comuns e as particularidades regionais do atual ciclo de instabilidade política da América Latina.
Tal ciclo se caracteriza, essencialmente, pelos seguintes elementos: fragilidade dos governos, crise dos partidos tradicionais (como os radicais na Argentina, os blancos e colorados no Uruguai, etc.), mobilização popular e um crescente sentimento de descrença na democracia ou, no mínimo, uma certa nostalgia pela época das ditaduras militares. Não há indícios de que estejamos nos aproximando de um novo ciclo de ditaduras na América Latina (inclusive, porque os militares da região não estão mais interessados em exercer diretamente o poder), mas que vivemos um momento de instabilidade e pouca confiança no sistema, é algo perceptível. A simples informação de que, nos últimos quinze anos, dez presidentes latino-americanos não cumpriram seu mandato constitucional pode confirmar isto.
A meu ver, a fonte central de toda a insatisfação popular é a incapacidade do sistema democrático latino-americano em promover maior prosperidade e qualidade de vida na região desde o fim das ditaduras militares nos anos 80. Não existe uma regra universal de que a democracia representativa e o Estado de direito promovam automaticamente o desenvolvimento econômico e a justiça social, mas havia toda uma expectativa de que isso iria ocorrer. Quando os anos e as décadas se passaram e os tradicionais problemas da América Latina – pobreza, violência, corrupção, desigualdade social, estagnação econômica – não apenas não foram resolvidos, como às vezes se agravaram, muitas pessoas se sentiram traídas. Do sentimento de traição ao de que é necessário fazer algo fora dos canais tradicionais, nas ruas, foi um passo.
É extremamente duvidoso se podemos culpar a democracia pelos problemas sociais e econômicos da América Latina, como se todas as ditaduras fossem sinônimo de progresso e desenvolvimento (e os latino-americanos, mais do que ninguém, deviam saber disso, dada a nossa história recente) e é difícil avaliar se todos esses movimentos populares que pipocam agora em toda a América Latina são positivos, no sentido de realmente apresentarem um projeto alternativo para a sociedade. Mas não resta dúvida de que o fracasso das democracias latinas em promover a prosperidade e conter a corrupção e os desmandos das elites políticas foram cruciais para levar as pessoas para as ruas. A queda de Fernando Collor de Mello, Fernando de la Rua e outros, malgrado especificidades, se encaixam nesse contexto.
Na América Latina indígena, contudo, temos um outro elemento atuando, ou seja, o despertar dos descendentes dos povos conquistados pelos espanhóis séculos atrás. Relegados às posições mais humildes das suas sociedades, desprezados e pobres, os povos indígenas têm demonstrado um notável ativismo político na América Latina nos últimos anos.
De fato, a atuação política indígena tem crescido tanto no México, como na Guatemala e em outros países, com a eleição de deputados e outros representantes. No Chile e na Nicarágua, por sua vez, mapuches e miskitos lutam para reaver a terra dos seus ancestrais, enquanto movimentos políticos, e mesmo guerrilhas, com base indígena, como a de Chiapas no México, também têm crescido nos últimos anos. Além disso, na queda de Jamil Mahuad no Equador em 2000 e na de Gonzalo Lopez de Lozada na Bolívia em 2003, ficou evidente a força da militância indígena. Por fim, ao menos indiretamente, os movimentos indígenas também se envolveram na queda de Lúcio Gutierrez no Equador semanas atrás.
Também está se desenvolvendo uma nítida polarização racial em alguns países. Quando se assiste ao noticiário sobre a Venezuela, por exemplo, é facilmente perceptível como os inimigos de Chavez são ricos, brancos e de clara tradição espanhola, enquanto seus adeptos são pobres e têm rostos indígenas. O mesmo se percebe na Bolívia, no Equador e em outros locais. A eleição de 2001 no Peru, que colocou como rivais um “cholo” de origem indígena e pobre, Alejandro Toledo, e uma mulher branca, rica e ultracatólica, Lourdes Flores, foi simbólica desse novo momento.
As razões desse despertar são múltiplas, mas deve-se destacar, a meu ver, a crescente conscientização dos povos indígenas de que apenas a militância política pode fazer valer os seus direitos, assim como o fato que as maiores vítimas das políticas econômicas excludentes na América Latina são sempre os pobres e os povos indígenas, o que induz a reações. Por fim, é de extrema importância a atual fase democrática dos países latino-americanos. Afinal, mesmo com seus limites, a manutenção da democracia implica em abertura de espaços para manifestação dos excluídos. Em outros tempos, os líderes e militantes indígenas seriam rapidamente mortos e eliminados e suas associações fechadas, o que não é mais possível hoje, limitando as possibilidades de repressão e favorecendo a politização.

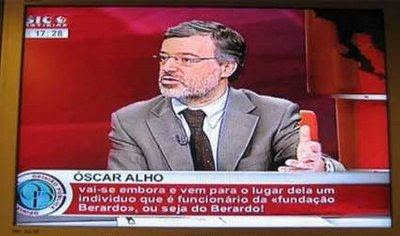
Comentários